 |
| Blade Runner |
 |
| Neuromancer - (fan art) |
Carlos Orsi é jornalista e escritor, além de trabalhar com divulgação científica. É autor do romance Guerra Justa, da Editora Draco, onde trabalha com a estética cyberpunk.
Lidia Zuin é doutoranda em comunicação pela European Graduate School e autora da série cyberpunk REQU13M, também pela Editora Draco.
Leo Lopes acaba de lançar seu primeiro romance, um cyberpunk carioca pela Editora AVEC – Rio: Zona de Guerra.
Vamos às perguntas:
Seguidamente aparecem discussões na literatura fantástica em geral sobre a "brasilidade" dos trabalhos, ou seja, sobre a necessidade ou não de inserir elementos nacionais ou escrever, geograficamente falando, sobre o Brasil sob pena de parecer uma cópia do que sai lá fora. Como você percebe o cenário cyberpunk neste contexto?
 CARLOS: Realmente não presto muita atenção nessa questão de "brasilidade". O debate, em si, me entedia um bocado - como se o sujeito dar "find/replace" num conto trocando "Nova York" por "São Paulo", ou vice-versa, fosse tornar uma história mais ou menos brasileira, ou mais ou menos original. Tendo dito isto, minha impressão, que provavelmente não tem valor científico, é de que os autores brasileiros que exploram ou exploraram o cyberpunk usaram cenários nacionais, e especulo que isso se deu por dois motivos: um, o de que o tema de fundo da história era ligado à realidade brasileira, e o cyberpunk foi o meio escolhido de expressar isso - assim, não foi o caso de "quero escrever um conto cyberpunk que vai se passar no Brasil" mas "quero escrever sobre o Brasil, e o melhor jeito de fazer isso é sendo cyberpunk". O outro, o fato de que um dos tropos mais comuns do cyperbunk, a tecnologia que cai "nas ruas", é muito visível por aqui -- por exemplo, na disseminação da telefonia celular e das redes sociais.
CARLOS: Realmente não presto muita atenção nessa questão de "brasilidade". O debate, em si, me entedia um bocado - como se o sujeito dar "find/replace" num conto trocando "Nova York" por "São Paulo", ou vice-versa, fosse tornar uma história mais ou menos brasileira, ou mais ou menos original. Tendo dito isto, minha impressão, que provavelmente não tem valor científico, é de que os autores brasileiros que exploram ou exploraram o cyberpunk usaram cenários nacionais, e especulo que isso se deu por dois motivos: um, o de que o tema de fundo da história era ligado à realidade brasileira, e o cyberpunk foi o meio escolhido de expressar isso - assim, não foi o caso de "quero escrever um conto cyberpunk que vai se passar no Brasil" mas "quero escrever sobre o Brasil, e o melhor jeito de fazer isso é sendo cyberpunk". O outro, o fato de que um dos tropos mais comuns do cyperbunk, a tecnologia que cai "nas ruas", é muito visível por aqui -- por exemplo, na disseminação da telefonia celular e das redes sociais. LIDIA: Eu também presto atenção nessa certa "necessidade" de se escrever sobre o Brasil e de se contextualizar as histórias em cenário nacional. Muitas vezes isso vem por parte das chamadas das antologias, que pedem para que os autores definitivamente localizem as narrativas no país ou em contexto lusófono. Já tive um conto recusado numa coletânea por causa disso, mesmo o organizador tendo gostado do conteúdo - tanto que o material vai ser publicado agora em outra antologia que não tem esse requisito "geográfico". Acho idiotice e vira tranquilamente uma piada maior do que a do Policarpo Quaresma, porque há essa obrigatoriedade do nacionalismo, que muitas vezes é falso (é uma regra da chamada), ou então fica tosco e num círculo vicioso de reciclagem de clássicos. Não que não existam pessoas que gostem de escrever sobre o Brasil, mas acho ruim quando é algo forçado.
LIDIA: Eu também presto atenção nessa certa "necessidade" de se escrever sobre o Brasil e de se contextualizar as histórias em cenário nacional. Muitas vezes isso vem por parte das chamadas das antologias, que pedem para que os autores definitivamente localizem as narrativas no país ou em contexto lusófono. Já tive um conto recusado numa coletânea por causa disso, mesmo o organizador tendo gostado do conteúdo - tanto que o material vai ser publicado agora em outra antologia que não tem esse requisito "geográfico". Acho idiotice e vira tranquilamente uma piada maior do que a do Policarpo Quaresma, porque há essa obrigatoriedade do nacionalismo, que muitas vezes é falso (é uma regra da chamada), ou então fica tosco e num círculo vicioso de reciclagem de clássicos. Não que não existam pessoas que gostem de escrever sobre o Brasil, mas acho ruim quando é algo forçado.No cyberpunk, existe a corrente Tupinipunk, que preza por esse nacionalismo ou um "jeitinho brasileiro" de se fazer o cyberpunk. Eu li pouca coisa que eu acho que poderia se encaixar nesse estilo, mas me lembro de um conto que achei terrível, porque era extremamente escrachado e estereotipado, basicamente uma pornochanchada de ciborgues no Rio de Janeiro. Lembro também de ter lido um conto de um colega que nem chegou a ser publicado, mas que se passava em São Paulo e era todo sujo e bem low life. Acho que se chamava Cara de Rato e era muito divertido. O que dificulta na ambientação brasileira muitas vezes é que os autores acabam caindo no clichê e a história fica tosca, brega... E o cyberpunk é cheio de lugar comum já, então é difícil de fazer uma história legal e que ainda passe uma mensagem crítica, que é para o que o gênero veio ao mundo, no fim das contas, eu acho.
 LEO: Acho que necessidade não existe. O que existe é possibilidade. Se podemos fazer e cabe na história que queremos contar, por que não? Para não parecer cópia basta não fazer cópia. Utilizemos os elementos do nosso país. E isso se aplica ao cyberpunk ou qualquer gênero literário de fantasia e ficção científica.
LEO: Acho que necessidade não existe. O que existe é possibilidade. Se podemos fazer e cabe na história que queremos contar, por que não? Para não parecer cópia basta não fazer cópia. Utilizemos os elementos do nosso país. E isso se aplica ao cyberpunk ou qualquer gênero literário de fantasia e ficção científica.Se somos acostumados com os livros e filmes de ficção, fantasia e capa-e-espada baseados em culturas externas à nossa é porque somos bombardeados com eles desde a mais tenra infância. Por que não bombardear de volta? Nossa cultura é rica em contos e lendas que fariam frente tranquilamente às fantasias medievais baseadas na cultura europeia, por exemplo. Acho que o nosso cyberpunk, se contado dentro do contexto da nossa cultura, nunca vai parecer cópia. Basta ser bem escrito.
Como você trabalha com a questão da tecnologia futurista? Prefere um contexto hard, com explicações detalhadas e calcadas no que já se sabe; ou mais soft, deixando uma boa parte para a imaginação do leitor?
CARLOS: Tecnologia é algo que prefiro, geralmente, deixar bem vago. Não gosto muito de explicar como as coisas funcionam. A ciência já é outra história: os princípios por trás da tecnologia são elementos que prefiro tratar com rigor. O que é mais "soft", nessa história, é como esses princípios se traduzem em máquinas, produtos, etc. Digo "geralmente" porque deve haver uma ou duas histórias minhas em que faço o oposto disso...
LIDIA: Minha formação é na área de humanas, então eu não tenho muita competência para escrever ficção hard - e nem gosto também. Não explico muito e não uso nada que já não tenha aparecido em outro lugar ou que já não seja conhecido dentro do gênero (realidade virtual, implantes, transferência de consciência para a máquina, etc.). O que me interessa mais é discutir as consequências e os desdobramentos humanos em torno dessas tecnologias. E claro, também gosto muito de fazer descrições e cuidar da parte estética da ficção. É como uma amiga minha disse: "Gosto de ler coisas que me inspiram a desenhar" e eu sigo mais ou menos essa ideia, já que também gosto de pintar.
LEO: Eu sempre tento fazer parecer o mais realista possível, sem me aprofundar demais nos detalhes técnicos, até porque determinadas coisas que podem parecer impossíveis hoje daqui a dez ou quinze anos passam a ser extremamente corriqueiras. Também tenho a preocupação de fazer com que o cenário fique bem mesclado de coisas extremamente inovadoras e bem antiquadas. Se você parar de ler esse texto agora e olhar a sua volta, com certeza vai ver uma série de coisas extremamente tecnológicas convivendo tranquilamente com coisas extremamente ultrapassadas, que logicamente já deveriam ter desaparecido, mas que, por algum motivo que ninguém consegue explicar muito bem continuam existindo. Um livro de papel é um belo exemplo disso.
As revoltas que andam pipocando em todo o mundo - Privamera Árabe, os 20 centavos - ajudam na construção dos cenários distópicos ou perturbam a escrita, pois destroem e constroem preconceitos em tempo recorde?
CARLOS: Diria que nem uma coisa, nem outra. Porque, se você pensar bem, a maioria das distopias é mais estrutural que específica - em outras palavras, elas lidam com coisas como teocracia, totalitarismo, anomia, que são, no geral, independentes do conteúdo: uma teocracia será distópica não importa se cristã, islâmica, hinduísta, zoroastrista, etc., e um governo totalitário será distópico não importa se comunista, fascista, militarista ou qualquer outra coisa. Então, eu diria que essa reciclagem rápida de vilões, por exemplo, no norte da África - ontem eram os ditadores militares, hoje são os muçulmanos fanáticos, amanhã talvez sejam os interventores militares americanos ou europeus - pode ser preocupante para o roteirista do próximo filme de James Bond, mas não para o escritor de ficção científica: porque mudam-se os vilões mas os padrões de opressão permanecem ou, se mudam (por exemplo, com a adoção de novas tecnologias de controle social), mudam de modo independente da identidade do vilão: a instalação, digamos, de um robô delator numa rede social interessa tanto a aiatolás quanto a generais ou grandes comissários do povo. É claro que a forma do robô, e o discurso em torno dele - segurança nacional, preservação da fé, pureza ideológica, etc. -podem variar, mas isso é apenas enfeite. Pode-se criar uma distopia baseada numa ideologia inexistente, numa religião alienígena, e preservar todos esses padrões.
LIDIA: Acho que esses acontecimentos podem inspirar os autores sim, principalmente para entender o fluxo da história e do comportamento humano, mas é preciso uma visão bastante crítica de tudo e não tanto acalorada. É possível absorver esses conteúdos como uma parte, mas talvez não como um todo, como cenários e não como objeto, porque o contexto é bem maior.
LEO: Eu acho que toda e qualquer informação com que o autor tem contato ajuda. Quem escreve um livro de ficção de qualquer espécie não faz nada mais do que extrapolar uma realidade que ele já conhece de alguma forma. O homem só sonhou em voar porque um dia viu um pássaro deslizando no céu.
A.Z.Cordenonsi
Pai, marido, escritor, professor universitário
Tem dois olhos divergentes e muito pouco tempo
página do autor - facebook - twitter
Pai, marido, escritor, professor universitário
Tem dois olhos divergentes e muito pouco tempo
página do autor - facebook - twitter
Sign up here with your email
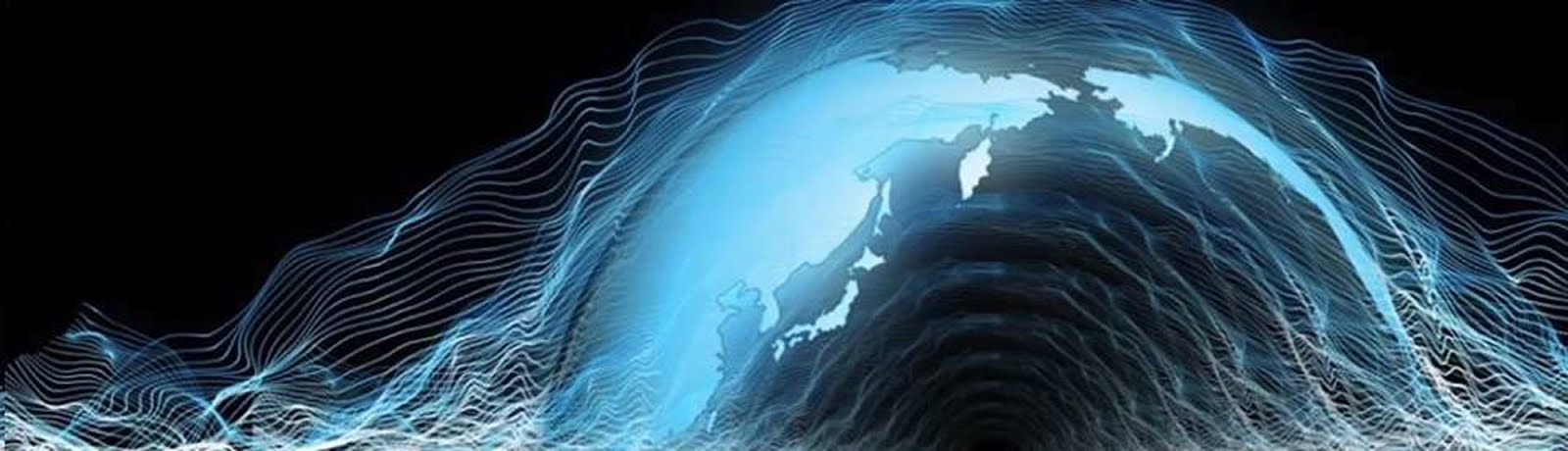
EmoticonEmoticon